Histórias que contamos para saber quem somos
 Encontro marcado e, várias vezes, adiado. Revisito Buenos Aires neste outono tropical. Faz muito frio e é inevitável o meu encontro com A Cidade das Palavras, de Alberto Manguel, único livro que trouxe na minha bagagem de mão.
Encontro marcado e, várias vezes, adiado. Revisito Buenos Aires neste outono tropical. Faz muito frio e é inevitável o meu encontro com A Cidade das Palavras, de Alberto Manguel, único livro que trouxe na minha bagagem de mão.
É claro que Manguel me remete sempre a Jorge Luis Borges. Consta que Borges, leitor compulsivo, ao cabo de seus 86 anos, próximo à morte, já cego, leitor insaciável que dizia que bibliotecas eram metáforas do paraíso, lia pelos olhos de um ainda jovem leitor de palavras e imagens, Alberto Manguel. Esse outro argentino que emprestou os olhos ao grande escritor de “Ficções” escreveu, pelo menos, dois livros muito interessantes sobre a leitura das imagens, “Uma História da Leitura” e “Lendo Imagens”.
Mas o meu encontro neste maio outonal da capital portenha é com A Cidade das Palavras. Leio de um só fôlego o livro que Alberto Manguel publicou sob um lúcido e instigante subtítulo: As histórias que contamos para saber quem somos.
Lá pelas tantas, dou de cara com um parágrafo que quase me derruba da cadeira: “Chegamos ao mundo como criaturas inteligentes, curiosas e ávidas de instrução. É preciso tempo e esforço imensos, em termos individuais e coletivos, para embotar e por fim sufocar nossas faculdades intelectuais e estéticas, nossa percepção criativa e nosso uso da linguagem.”
Vale repetir em vulgar: é preciso empenho por parte dos interessados – igrejas, meios de comunicação, partidos políticos – para atrofiar a nossa predisposição ao aprendizado e nos transformar em idiotas!
Não se trata, é claro, de nenhuma novidade argumentativa, mas as palavras de Manguel, formuladas com uma clareza desconcertante, têm o poder de elevar a nossa percepção sobre os “mecanismos emburrecedores” que, de tão presentes no cotidiano, tornam-se invisíveis aos nossos olhos. É mais ou menos como o mito da caverna de Platão. Acostumados que estamos a apreciar as sombras projetadas nas paredes, não temos coragem ou condições de olhar para o outro lado, para a luz, e enxergar as coisas como de fato são.
Mas vamos falar de forma mais objetiva. Que mecanismos emburrecedores seriam esses a que me refiro? Considerando que Manguel aborda o problema a partir da criatividade estética, parece válido frisar que todos esses mecanismos provêm do uso utilitário da linguagem. São as prédicas dogmáticas dos religiosos, a estética superficial dos slogans publicitários e especialmente a demagogia recheada de clichês que emana dos porta-vozes de todo e qualquer governo.
Quando um discurso oferece certeza em vez de ponderações e consolo em vez de reflexão, é melhor desconfiar antes de cair de joelhos e dizer amém. Exemplos: para encontrar a salvação em Cristo, você precisa aceitar a verdadeira palavra sem questionamentos; para que o sonho de ser especial se realize conforme a propaganda na TV, é necessário comprar mercadorias de que não precisamos para viver; e para, enfim, que você se sinta membro de um país em ascensão, há a obrigatoriedade de aplaudir os discursos oficiais, mesmo que eles criem uma realidade diversa daquela que conhecemos através da experiência.
São trocas unilaterais, sem margem para mediações. Se você não aceita a verdade das religiões, o máximo que merece é ser lembrado nas orações dos justos. Se estiver fora da linha de consumo, sequer existirá perante o mundo. E se não aplaude a cantilena do poder, será chamado de elitista e preconceituoso.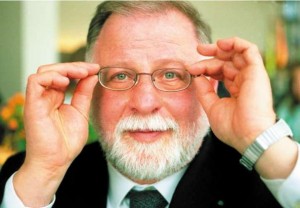
Ainda que Manguel não fale em salvação, fica evidente que ele acredita que o nosso “vício” de contar e ouvir histórias seja uma resposta adequada à ação endêmica dos mecanismos emburrecedores acima referendados. Mas não qualquer tipo de história, não as que tolhem o espaço da dúvida e da ambiguidade (isso a religião, a publicidade e a política já fazem a contento), e sim as que se encontram na boa literatura, no cinema de proposta, na música e na poesia de maior inspiração.
Na Arte, enfim. Ali, e só ali, encontraremos as tais histórias que contamos para saber quem somos.








