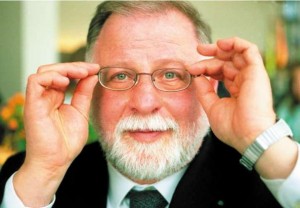Confesso que eu poderia muito bem intitular minha homenagem ao Dia dos Pais com o mesmo título da composição do imortal poeta e compositor Sérgio Bittencourt, meu amigo que tão prematuramente deixou órfão o jornalismo e a música popular brasileira.
O Sérgio Bittencourt, que atendendo a um convite meu cantou “Naquela Mesa” em São Luís, poucos dias antes de morrer, compôs essa música para homenagear o seu pai Jacob Pick Bittencourt ou simplesmente Jacob do Bandolim, que também, prematuramente, aos 51 anos de idade, deixou o chorinho brasileiro a chorar para sempre.
Sérgio, que era hemofílico, morreu aos 38 anos de idade e deixou uma das mais belas mensagens de saudade e de amor sublime que um filho pode ter pelo pai. A herança deixada pelo Jacob, não se resume só nas suas canções e chorinhos; tem também, o legado de seu filho, Sérgio Bittencourt.
O Dia dos Pais que a cada ano se renova em nossos corações, aumenta mais ainda a possibilidade de podermos cantar a música do Sérgio. Pois, felizes ainda são aqueles, que podem contar com a insubstituível presença do seu pai.
Naquela mesa, naquele sofá, naquele banco de praça, naquela roda de amigos, muitos ainda podem encontrar o seu pai querido; mas, quando você o procura naquela mesa, naquele sofá, naquele banco de praça e naquela roda de amigos e não o encontrar, resta-lhe procurá-lo dentro do seu coração, dentro das suas lembranças e, saber que um dia o seu filho amado também o procurará e também não o encontrará, senão, pelas suas ações de bom pai que foi para com os seus filhos. Sempre presente, nos bons e maus momentos de nossa vida.
O meu pai era um homem simples. Sabia ler e escrever, mas não era erudito. Os diálogos entre eu e ele não foram exatamente os diálogos que os filhos das décadas de 70 e 80 deveriam ter tido com os seus pais, talvez, mais pela sua diferença de idade – quase trinta anos nos separavam – do que, pela sua dificuldade de falar dos mesmos assuntos e conhecimentos trazidos por mim da escola para casa.
Mas, de uma coisa estou certo: o seu silêncio a respeito de muitos assuntos sinalizou o meu caminho. O seu jeito humilde de ser, a sua conformação com o estado de coisas que se abateu sobre a sua vida, me fez procurar ser um homem diferente do que foi o meu pai, entretanto, a sua honradez, a sua humildade, o seu caráter, a sua honestidade e a sua bondade, serviram para me formatar enquanto filho que fui, amigo e colega que sou.
O meu pai partiu para a eternidade quando eu ainda estava na primeira juventude. Na sua sabedoria, ele jamais se levantou contra as minhas insolências; ele me entendia. O pai entendia o filho que, sabia entender o pai, melhor ainda: ambos se respeitavam. Hoje, sabemos o quanto os verdadeiros pais sofreram para fazerem seus filhos serem o que hoje somos.
Meu pai era silencioso e me amou assim quase sem dizer nada. Lembro dele por suas marcas em mim: estou falando menos, ouvindo mais, sorrio pouco, só não serei tímido como ele porque aprendi a disfarçar.
NAQUELA MESA
Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre
O que é viver melhor.
Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória
eu guardo e sei de cor.
Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente
O que fez de manhã…
E nos seus olhos era tanto brilho
Que mais que seu filho
Eu fiquei seu fã.
Eu não sabia que doía tanto
Uma mesa num canto
Uma casa e um jardim.
Se eu soubesse quanto dói a vida
Essa dor tão doída
Não doía assim.
Agora resta uma mesa na sala
E hoje ninguém mais fala
No seu bandolim…
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele
Tá doendo em mim.
A propósito dessa letra do poeta-compositor Sérgio Bittencourt, publicada em 1974, em homenagem ao seu pai, Jacob do Bandolim, li, há algum tempo, um estudo profundo sobre ela, assinado por Gabriel Perissé, do qual fiz algumas anotações.
Como a observação de Gabriel de que as três primeiras estrofes do poema-música fazem menção àquela mesa, um objeto da casa, um elemento da mobília, que, no entanto, não só pela tríplice repetição, mas, sobretudo, pelo pronome demonstrativo aquela unido à preposição em – naquela –, surge como uma mesa especial.
E continua dizendo que “Naquela mesa”, ele é o protagonista e quem transforma aquele objeto num âmbito. Num âmbito de permanência. Senão vejamos: “Naquela mesa” ele sentava “sempre” e me dizia “sempre”… O advérbio “sempre” é o advérbio da eternidade, ainda que somente da eternidade desejada. A expressão hospitaleira “volte sempre”, a declaração de amor “eu te quero para sempre”, mesmo que relativizadas pela fugacidade da vida, têm a força da constância: todos os dias, de todos os modos e com uma só duração. Àquela mesa o pai sempre se sentava para dizer ao filho “o que é viver melhor”.
Aprendi, em mais de meio século de convivência harmoniosa e amiga com a minha família e com as famílias dos meus amigos, que a mesa é o âmbito da sabedoria. Viver melhor tem conotações socráticas, sapienciais e até mesmo místicas. A filosofia não quer ensinar a sobreviver, a vencer na vida, empreendimento próprio dos modernos manuais pragmáticos que substituíram as lições da ética clássica. O filósofo não está preocupado com o padrão de vida econômico e social, com o sucesso profissional, com o bem-estar. O status que interessa ao sábio é o que traduz o aperfeiçoamento humano em seu sentido mais radical. Viver melhor é não sofrer? Viver melhor é viver sem dor? Viver é não experimentar o fracasso?
O ser humano é perfectível. Pode melhorar sempre. Melhorar como ser humano, realizar-se integralmente como ser humano. Entre o início do desenvolvimento e a perfeição há uma escala de aperfeiçoamento, de melhoramento, mas – e essa é uma percepção interessante – sempre é possível melhorar, na medida em que concebemos um Bem Supremo que, se atingível fosse, deixaria de ser Supremo. A supremacia do Bem Absoluto consiste em ser inalcançável, mas também consiste em atrair-nos sempre para o melhor.
Naquela mesa, o pai “contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor”. A mesa é o âmbito da memória. As histórias contadas são as vivências transmitidas, na linha do viver melhor. Através dessas histórias, dessas parábolas, dessas narrativas, o pai educa o filho, e o filho aprende de cor a lição. “Hoje”, diz o autor, ele sabe de cor, ele lembra o que está em seu coração, ele guarda o seu tesouro, a sua riqueza, a sua herança. O passado está sempre presente.
Sempre naquela mesa, o pai “juntava gente e contava contente o que fez de manhã”. A mesa é o âmbito da comunhão festiva. Ele, o pai, o artista, o músico, agregava amigos, pessoas que vinham ouvir histórias, histórias de sua vida, que por mais comezinhas e recentes que fossem adquiriam a transcendência do encantamento. Ele “contava contente”, transbordando de alegria. Alegria contagiante.
A mesa, para mim, é e sempre foi o símbolo de centro espiritual, em que se distribui o alimento da sabedoria, da felicidade, do amor, da verdade entre pessoas que se querem bem. O anfitrião, ocupando lugar de destaque, é ao mesmo tempo o principal servidor, o provedor, o pai. A mesa é o altar onde o “padre”, o pai, dá-se a si mesmo como alimento.
E contando suas histórias, e partilhando suas experiências, o filho via “nos seus olhos tanto brilho que mais que seu filho [ficou] seu fã”. A pedagogia do entusiasmo: o filho experimenta o êxtase, a alegria imensa de estar ali, vendo o brilho daqueles olhos, brilho que expressa a luz interior, talvez as lágrimas da emoção sincera, mas sempre a vida em sua exuberância e generosidade. A opacidade é a rotina burocrática. O brilho é a criatividade. A mesa é o lugar privilegiado do encontro.
As estrofes seguintes contemplam o que aconteceu depois da morte do pai. O filho se queixa: “eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim”. Os encontros com o pai naquela mesa, contextualizada na casa de família, cessaram, e a ausência física do pai torna dolorosas essas realidades. Os objetos podem provocar dor física se contra eles nos chocamos, ou se eles caem sobre nós, mas aqui se trata da dor mais funda, a mesma que Carlos Drummond de Andrade sentiu quando, ao olhar o retrato de sua cidade, confessou que era “apenas” um retrato pendurado na parede, mas como doía!
Essa dor de tudo aquilo que poderia continuar a ser e que deixou de ser. A dor da perda irreparável. A mesa, “aquela” mesa, está jogada num canto. Está vazia, deixou de ser o centro espiritual da casa, que por sua vez deixou de ser o símbolo do centro do universo, rodeada pelo “jardim”, que deixou de ser o símbolo do paraíso terrestre, centro do cosmos.
O filho, vivenciando antes a plenitude, sente-se agora desorientado, ferido, abandonado. E sua queixa se amplifica: “se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim”. A dor de perceber que “ninguém” mais se lembra do pai, que talvez ele seja o único que realmente amou aquele homem (e por isso dele não se esquece), acrescenta-se à dor “tão doída”.
O autor do poema sente que talvez estivesse despreparado para essa dor. Se tivesse aprendido a encarar a morte como algo “natural”, não sentiria tanta dor, não perceberia o esvaziamento ontológico da mesa, não se sentiria tão órfão, não sentiria como fonte adicional de dor a ingratidão dos que usufruíram “daqueles” momentos com “aquele” homem, pois também ele saberia que “a vida é assim mesmo”, que “ninguém fica para semente”, que “a morte é lei da vida” – lugares-comuns que amenizam a dor “tão doída”.
Na última estrofe, porém, o poeta parece galgar um novo nível de consciência. Retomando o pronome demonstrativo, volta a escrever: “naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim”. A mesa volta a ser “aquela” mesa. A constatação de que nela o pai está faltando completa-se com outra: a de que a dor é um fato valioso. Somente ele tem a dor meritória de sentir saudade do pai. A saudade dói “nele”, é uma realidade introjetada, mas nem por isso menos real.
Quando o poeta Alfred Musset – que, como todos os grandes românticos, mostra-se especialmente sensível para o caráter transcendente da vida – diz que “o homem é um aprendiz e a dor, a sua mestra”, capta, por contraste, a fraqueza filosófica dos estoicismos. Viver melhor não é viver a salvo da dor, mas aprender com a dor o sentido profundo da vida, uma vez que a vida real dói: “se eu soubesse quanto dói a vida…”
E igualmente quanto dói o verdadeiro amor, como nos versos de Vinícius de Morais, no Soneto do Maior Amor: “Louco amor meu, que quando toca, fere / E quando fere vibra, mas prefere / ferir a fenecer […].”
Agora, sim, o poeta sabe que a vida dói, e esse saber o aperfeiçoa um pouco mais. É graças a essa dor que ele pode escrever um poema como este. O filho não deixou de ouvir o pai e de vê-lo “naquela” mesa.
Quem não possui a sensibilidade para a beleza, para o valor, para a sabedoria, também não sente a dor que causa a perda (ou a sensação de perda) do que é belo, do que é valioso, do que é sábio.
 Encontro marcado e, várias vezes, adiado. Revisito Buenos Aires neste outono tropical. Faz muito frio e é inevitável o meu encontro com A Cidade das Palavras, de Alberto Manguel, único livro que trouxe na minha bagagem de mão.
Encontro marcado e, várias vezes, adiado. Revisito Buenos Aires neste outono tropical. Faz muito frio e é inevitável o meu encontro com A Cidade das Palavras, de Alberto Manguel, único livro que trouxe na minha bagagem de mão.